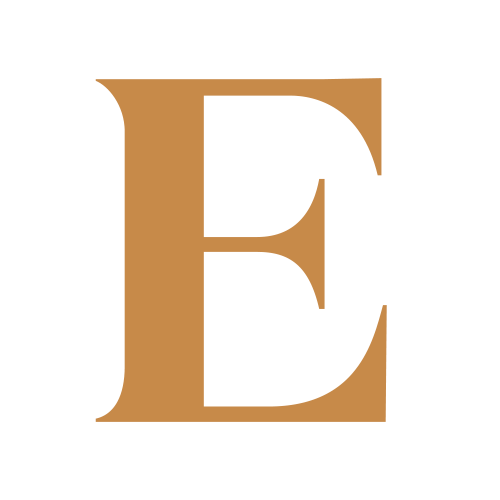Tudo o que há de vir será Ucrânia
“Estão livres, meus queridos”, lê-se em enormes cartazes espalhados pela cidade de Kherson, a sul, a última grande reconquista do exército ucraniano. Mas a libertação não trouxe a todos a mesma liberdade. No Donbas, a leste, a guerra dura há quase dez anos, as pessoas que resistem vivem em cubículos debaixo dos seus prédios destruídos, os soldados que resistem alertam para a mortandade crescente nas fileiras. Apenas em Kiev a vida parece normal, mas nos arredores o trauma da guerra ainda dói

FAÇA SCROLL
▼
Tudo o que há de vir será Ucrânia
“Estão livres, meus queridos”, lê-se em enormes cartazes espalhados pela cidade de Kherson, a sul, a última grande reconquista do exército ucraniano. Mas a libertação não trouxe a todos a mesma liberdade. No Donbas, a leste, a guerra dura há quase dez anos, as pessoas que resistem vivem em cubículos debaixo dos seus prédios destruídos, os soldados que resistem alertam para a mortandade crescente nas fileiras. Apenas em Kiev a vida parece normal, mas nos arredores o trauma da guerra ainda dói

Os ucranianos não chamam invasão ao que aconteceu a 24 de fevereiro de 2022 - chamam-lhe “invasão em grande escala”. Já houve outras invasões, outras anexações - esta é só a maior. Não mudou o inimigo, não mudou a intenção. No início de abril do ano passado, quando o exército ucraniano expulsou as tropas russas dos arredores de Kiev, impedindo o Kremlin de instalar um autómato na vez do Presidente, o mundo espantou-se com a proeza. Nesse momento, a Ucrânia entrou para a reduzida lista de idealistas que emperram grandes máquinas de guerra.
Um ano depois do seu início, a guerra existe em todo o país, choram-se os soldados que regressam mortos a todas as casas ucranianas. No centro de Kiev, a normalidade surge no regresso dos hábitos diários: ir ao cinema, ler numa esplanada, voltar às aulas. Nos subúrbios da capital, onde se registaram algumas das maiores atrocidades deste primeiro ano de guerra, a reconstrução ouve-se, mesmo quando não se vê: berbequins, martelos pneumáticos, betoneiras. No Donbas, a guerra é tudo o que existe e Kherson, no sul, insiste no meio destas realidades: está livre de ocupantes, mas eles espreitam do outro lado da margem do rio Dnieper - e daí atingem constante e aleatoriamente quem quer recomeçar.

Durante 10 dias o Expresso viajou de Borodyvanka a Kherson, passando por todas as localidades assinaladas no mapa. São cerca de 1400 km, mas imensas horas de carro devido ao mau estado das estradas
Durante 10 dias o Expresso viajou de Borodyvanka a Kherson, passando por todas as localidades assinaladas no mapa. São cerca de 1400 km, mas imensas horas de carro devido ao mau estado das estradas
Há nove anos, também em fevereiro, a Revolução da Dignidade ocupou a principal praça da capital, Maidan Nezalezhnosti, ou Praça da Independência, numa exigência clara: o futuro da Ucrânia tinha de passar pela Europa. Vladimir Putin não gostou da audácia. Invadiu a Crimeia e enviou desestabilizadores para a província do Donbas. Quis provar quem mandava — e o Ocidente permitiu. O sangue dessa resistência corre nas veias desta. Muitos jovens que combateram em “Maidan” entraram no exército nos primeiros dias desta invasão; alguns já tinham ido para o Donbas em 2014 e 2015, onde a guerra de há nove anos pouco ou nada se assemelha à que lá se vive agora, muito mais violenta, sangrenta, desesperada. Dos dois lados.
As Nações Unidas informaram, no dia 6 de fevereiro de 2023, que já terão morrido pelo menos 8.006 civis desde o início da invasão; e outros 13.287 ficaram feridos. O número de militares mortos é impossível precisar, é um campo opaco de informação, porque estes dados são uma arma de guerra, um poderoso mobilizador ou desmoralizador. Os serviços de informações norte-americanos falam em 100.000 mortos do lado ucraniano e 200.000 do lado russo.
Kiev
Be Brave Like Ukraine™
O recolher obrigatório está fixado nas 23h, mas são só 21h. O presidente da câmara, ex-campeão mundial de boxe, Vitali Klitschko, disse no fim de janeiro que a população voltou aos números antes da guerra. Quando as tropas russas estavam à porta da capital, caiu de cerca de quatro milhões para um milhão; agora está perto dos 3,6 milhões, segundo dados de uso de telemóveis no perímetro da cidade. O trânsito é caótico. “Até me parece mais caótico, sinceramente”, diz o intérprete do Expresso, Maksym. Os restaurantes estão todos abertos — em abril era difícil jantar fora dos hotéis, por haver recolher obrigatório às 21h —, não existem postos de vigia visíveis, há poucos militares na rua, as pessoas aproveitam os últimos dias de saldos nas lojas das principais marcas de roupa do mundo, que voltaram a abrir. Numa das principais avenidas, o agora famoso mural de uma Virgem Maria a embalar uma bazuca tornou-se paragem obrigatória para selfies. Nos portões das garagens é frequente ver pintada a frase “Be Brave Like Ukraine™”, espécie de slogan e marca oficial do país. Estão -5ºC e um grupo dança ao som de um rapaz que finge cantar, com uma coluna no chão. Uma rapariga que parecia acompanhar o ritmo da música tem, na verdade, os seus próprios auscultadores nos ouvidos. Está na sua discoteca privada.
Amigos às gargalhadas porque um escorregou na neve luzidia e caiu, casais a comprar café nos quiosques espalhados pelo largo passeio da avenida Khreshchatyk, a maior artéria da cidade; toda a gente fecha mais o kispo, enterra um pouco mais o gorro, duas amigas agarram-se, as rajadas de vento gelam os ossos. Debaixo do chão, nas paragens de metro, vende-se milho com manteiga em copinhos de plástico, mais café, indumentária tradicional para mulheres, mas sobretudo imitações das camisolas grossas verde-azeitona com capuz que o Presidente Volodymyr Zelensky usa nos discursos noturnos à nação. “I’m Ukrainian”, lê-se, estampado na frente.
A cidade não esqueceu a guerra, só parece. É impossível esquecer o que se passou durante o mês em que o exército russo ocupou os arredores da cidade, tentando definhá-la num cerco para depois a conquistar. Uma lição antiga: sem luz, sem acesso a cuidados médicos, sem forma de retirar os feridos dos bombardeamentos e, em última análise, sem água nem comida, qualquer espírito cede. A Rússia sabe que resulta, cedo ou tarde. Alepo, Síria, 2012-16, o maior cerco da história moderna.
Quando o Expresso chegou, em 2022, aos territórios libertados de Bucha, Irpin, Borodyanka, Bovary, Vozel, Hostomel, tantas pequenas localidades, nalguns casos menos de 48 horas após a debandada russa pelas florestas até à Bielorrússia, as pessoas estavam assustadas, traumatizadas e, ao mesmo tempo, incrédulas e orgulhosas do seu exército, muito auxiliado pelas brigadas civis, constituídas e treinadas ao longo de 2021, enquanto a ameaça russa se fixava do outro lado da fronteira, construindo aquartelamentos, trazendo homens, tanques, lança-morteiros para as portas da Ucrânia.
A aparente normalidade é apenas prova de que o ser humano fará tudo para regressar ao momento antes da adversidade que lhe modificou os dias. A guerra acaba por se mascarar, e depois por se dissolver, nas rotinas de quem tem de a atravessar: os que não podem fugir, os que não querem fugir.
Há 365 dias, a Ucrânia era um país a muitos quilómetros de Berlim, Paris ou Londres. A décadas de Bruxelas. Hoje, é um país europeu no sentido que mais conta, o da perceção dos restantes europeus. Se Hitler propiciou, em 1940, governos resolutamente anti alemães em França e no Reino Unido, também o maior feito de Putin foi reforçar a aliança da maioria das democracias ocidentais em torno da ideia adormecida de liberdade, menosprezada nos últimos anos com a proliferação de populistas. “Qualquer sociedade que renuncie a um pouco da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança não merece nem uma nem outra, e acabará por perder ambas”. A frase de Benjamin Franklin ilustra a principal luta de hoje nos centros de decisão europeus.
A Ucrânia exige aos países da NATO que abdiquem de alguma segurança. Energética, por exemplo, mas também militar. Até quando irão os europeus considerar sua a luta pela liberdade dos ucranianos e o seu direito ao território que a lei internacional lhes consagra? É difícil prever.
Hoje a noite pertence a Marina. O bar e galeria de arte Modi — o nome vem do artista italiano Amedeo Modigliani — está com casa cheia para uma leitura de poesia, aberta aos que tenham a coragem de derramar a alma ao microfone. A estrela é Marina Tseluiko, 40 anos, mãe, poetisa, pasteleira antes da guerra e cozinheira do batalhão Azov durante quatro meses. “Já sei que vão perguntar se são fascistas. Não, são iguais aos outros homens corajosos que defendem a Ucrânia.”
A sala irrompe em aplausos, como acontecera uma hora antes, quando o dono do bar, Dmitry Vityk, anunciara a presença da imprensa de um país que prometera, uma hora antes, enviar quatro tanques Leopard para a Ucrânia.








“Porque sem liberdade, sem paz, nada vale a pena”
Dmitry anda à procura de mais cadeiras, todos querem ouvir a poesia da cozinheira da linha da frente. Marina tem um vestido às flores, mangas de balão, duas tranças negras que cruza como bandolete por cima da cabeça, batom cor de vinho. Parece tudo menos uma mulher que, diz ela, quase obrigou os soldados a deixarem-na ajudar no esforço de guerra. A sua poesia, agora, é sobre o que viveu na frente, perto de Kharkiv.
“Usas as tuas botas pesadas e a arma ainda mais pesada,
mas nenhuma frieza ou maldade usas na tua alma.
Escreve-se um poema e depois vai-se lutar com os camaradas,
Só metade irá voltar,
Os outros unir-se-ão com Deus na sua luz”, começa Marina, numa sala silenciosa.
“Tiras o teu colete pesado e as tuas botas pesadas,
E teres mais um dia é como teres mais uma vida.
Glória. E depois vais tocar piano.
No teu saco-cama, os teus olhos honestos relembram:
dor, vida, morte, pedaços de edifícios
E as ações inomináveis dos homens como tu”.
Mais uma ovação na sala.
“Umas semanas antes do início da guerra, fui inscrever-me para os cursos de treino militar básicos do batalhão Azov aqui em Kiev. Fiz o curso e esperei que me chamassem quando começasse a guerra, mas nunca me chamaram”, conta Marina ao Expresso. “Esperei, esperei, esperei, um dia decidi ir ao quartel onde fiz o treino, perguntar porque não me chamavam. Disseram que eu não tinha experiência, era mãe, devia continuar a trabalhar e ficar longe de perigo, mas recusei-me a vir embora, fiquei sentada horas à espera de um superior.”
Bogdan Haran traduz o que Marina diz, espantado com a história. Também queria ir combater, também o mantêm à espera. “‘Se queres ajudar, não atrapalhes’. É um ditado ucraniano irritante, mas admito que possa ser verdadeiro no que toca à recruta. Se ainda não me chamaram, é porque não sou preciso.”
O jovem de 25 anos serve ao balcão do Modi, porque o departamento de investigação em biologia molecular aplicada a doenças específicas da gravidez, onde trabalhava, perdeu o financiamento. “Já quase nada tem orçamento, só o exército e a guerra. É essencial, porque sem liberdade, sem paz, nada vale a pena. Uma das primeiras explosões da guerra foi num arranha-céus nos arredores de Kiev que se vê da janela da sala de partos. Estavam lá mulheres em recuperação”, conta Bogdan. Também ficou sem o amor da sua vida. Palavras dele. “Ela está em Viena, é bióloga, a minha vida mudou para sempre por causa da guerra. Foi-se embora por causa da guerra, tenho a razão mais forte de todas para lutar: quero os russos fora daqui rápido, para ela poder voltar”. Além de biólogo, Bodgan completou um curso de oficial do exército, especializando-se em deteção de radioatividade e elementos químicos nos solos, ar e água. “Fui buscar o certificado há uma semana e não me quiseram alistar. Posso ser útil, mas não me deixaram ir”.
O relato parece contrastar com notícias e alertas em grupos de WhatsApp e Telegram de que o Comando Militar da Ucrânia esteja a percorrer as cidades à procura de homens aptos a lutar. Em locais como Odessa, os jovens estão com medo de sair à rua. A BBC falou com alguns que garantem ter mudado rotinas, para evitar as brigadas que andam a recolher nomes, mas a tutela diz que não está a recrutar mais do que em meses anteriores, apenas a tentar estabelecer um registo militar mais atualizado dos homens do país. Não quer dizer que sejam mobilizados a curto ou médio prazo.
Marina faz que sim com a cabeça ao ouvir Bogdan. São aliados na espera, desejam ir para a guerra. “Tive sorte, o comandante que me veio dizer que não podia combater foi o que me treinou. Disse que, se quisesse, podia ficar no quartel a fazer comida. Assim fiz. Depois, quando parte dos homens foi mandada para leste, o comandante dessa unidade mandou dizer que queriam que eu fosse cozinhar para eles, que era o talismã deles, e deixaram-me ir”.
Passou três meses no distrito de Kharkiv, reconquistado pelos ucranianos em setembro. Voltou antes, em junho, porque as suas duas filhas, então em casa dos avós, estavam a ficar impacientes com a ausência da mãe. “A alma deste país mudou para sempre num ano. Todos entendem, de repente, o que é ter propósito na vida, um mesmo propósito: ajudar os nossos soldados.”
Algo parecido confessa Tatiena Chervinska, mãe de uma menina de 13 e dois rapazes, um de 8 e outro de 5. Nem Marina nem Tatiena saíram de Kiev com os filhos, apesar das dezenas de autocarros e comboios e carrinhas alugadas por organizações internacionais para retirar mulheres, crianças e idosos das zonas de conflito. “Quero que cresçam aqui, muitas mães saíram e se calhar acham que sou irresponsável, mas não quero que os meus filhos vejam de longe o que se passa na Ucrânia. Quero que vivam o dia a dia, que vejam como o país resiste, a mãe a continuar a trabalhar, e como as pessoas parecem ter um sonho maior, parece que são todas um só organismo a tentar sobreviver”, descreve a engenheira farmacêutica.
A primeira vez que veio ao bar Modi foi para expor os quadros que pintava há muitos anos, apenas como terapia. Vendeu dois. Depois do início da guerra, tornaram-se menos negros, há sempre um foco grande de luz. No telemóvel mostra uma mulher de costas, as formas dos músculos e as vértebras em vermelhos e laranjas — e a tal luz. Uma explosão? “Não, é luz boa.”
Levanta-se, tem de ir buscar as crianças. Amanhã quer dar-lhes um dia bom, porque segunda-feira há aulas presenciais para os dois mais velhos, que têm medo das sirenes e dos ataques aéreos. “As aulas são por turnos, uns dias vai parte da turma, outros dias vai a outra, porque em outubro houve um ataque perto e reparou-se que o abrigo era demasiado pequeno para todos, as crianças ficaram em pânico.”
“Todos querem estar deste lado, porque ser ucraniano é super fixe”
É difícil imaginar a guerra a partir de Kiev. Bogdan sentiu peso na consciência por estar sempre no bar e seguir para festas com os amigos. Quando foi buscar o diploma de fim de curso de oficial do exército, perguntou a um instrutor o que achava das festas de fim de ano, das raves de jovens nas praças, desta espécie de normalidade que quase passa por ataraxia. “Disse-me que é para isso que estão a lutar, para que as pessoas tenham esta vida livre, para que eu e outros jovens tenhamos normalidade, mas pediu que não esquecêssemos esse grande esforço”, conta.
“Ser ucraniano é ser rebelde, não aceitar o bullying do miúdo maior. O sentimento de liberdade é palpável, não há volta atrás, já não há dúvidas sobre o que queremos ser”, prossegue Bodgan. Antes da guerra havia dúvidas? “Algumas pessoas ainda tinham frases do género ‘em Moscovo é que é bom e tal’, mas quem quer, agora, estar fora deste movimento de resistência? Todos querem estar deste lado, porque ser ucraniano é super fixe.”
Quem resta dispersa para outro bar, o Cupido, abrigo antiaéreo da Guerra Fria com as tubagens da extração visíveis e uma porta de ferro pesadíssima. Quando chegamos está a fechar. Alguém fala de uma festa numa caravana num parque da cidade, mas o grupo não adere. Ser rebelde na Ucrânia também é aceitar o recolher obrigatório.
De Kiev para Bucha e Borodyanka
“Não sabes que te viemos libertar?”
A vida reergue-se sobre o medo de que o horror possa voltar, na forma de nova ofensiva russa que se presume certa. Há uma nova piada entre os jovens de Kiev. Quando alguém quer atrasar a entrega de um trabalho na universidade, a desculpa preferida é: “Isso agora só depois da ofensiva”.
Em Bucha, onde foram descobertas as primeiras valas comuns, os primeiros corpos com sinais de tortura após um mês de ocupação russa, a reconstrução avança a um ritmo impressionante. A piada dos jovens de Kiev não chegou aqui. Se a ofensiva vier, terá novas casas para destruir, e ninguém parece achar essa perspetiva deprimente.
O ar está gelado, é difícil escrever a um ritmo que acompanhe o que nos contam. Os dedos não reagem suficientemente rápido. Os telemóveis deixam de responder ao tato. No entanto, os homens não param. De todo o lado chega o som de martelos, serrotes, lixas elétricas, máquinas de soldar, berbequins, cimento a rodar nas betoneiras. Quase todas as casas têm pilhas de vigas de madeira fresca diante dos portões. Metade do telhado negro, partido, ardido, outra metade acaba de nascer. Os trabalhadores, que, na grande maioria, reconstruem casas que não são suas, equilibram-se em cima dos telhados íngremes a martelar a nova estrutura. Não sabem o que se passou, não podem falar por quem aqui viveu.
“As feridas não estão a sarar”

Numa esquina da rua Vokzalna, onde há menos de um ano se acumulava metal retorcido, resquícios da coluna de tanques que visava conquistar a capital, encontramos Andriy Kashperskyi, 44 anos, mecânico, a trabalhar na sua casa. A parte de cima é nova, placas de madeira comprimida mostram a geometria do passado. A família, que incluiu duas adolescentes, fugiu nos primeiros dias de guerra, porém o choque ias-lhes chegando pelas mensagens dos vizinhos que fugiram mais tarde e ainda registaram parte da ocupação. “Não vimos as atrocidades em primeira mão, mas sabemos que estiveram corpos encostados aqui ao muro, e que as pessoas que ficaram vieram buscar cobertores e roupas a nossa casa para os cobrir. Um tanque estacionou no nosso quintal, disparava contra as outras casas daqui, da nossa casa.”
A mulher de Andriy vem cá fora, com uma das filhas, Inna, de 14 anos. “As feridas não estão a sarar. Sei que houve pessoas a sofrer muito mais do que nós, mas está a ser difícil encontrar forças para acreditar que a vida volte a ser o que era. Toda a gente fala deste sofrimento, o nosso vizinho ouviu gritos de mulheres, de uma casa aqui perto, e continua desesperado porque nada fez para saber de onde vinham.”

Rua Vokzalna em abril de 2022 (em cima, fotografia de Rui Duarte Silva) e em fevereiro de 2023 (em baixo, fotografia de Ana Baião)
Rua Vokzalna em abril de 2022 (em cima, fotografia de Rui Duarte Silva) e em fevereiro de 2023 (em baixo, fotografia de Ana Baião)
Só em Bucha, segundo a autarquia, 372 casas tiveram de ser demolidas, mais de 500 ficaram muito danificadas e 2500 têm de ser reparadas. Isto terá um custo de perto de 5000 milhões de hryvnias (€127 milhões). Muito do trabalho é financiado por organizações internacionais como a Global Empowerment Mission e a Fundação Howard G. Buffett. No distrito de Kiev, 22.800 habitações foram afetadas. Em todo o país, a reconstrução pode custar €136 mil milhões, estima o Conselho Nacional para a Recuperação da Ucrânia e Consequências da Guerra, em parceria com a Faculdade de Economia de Kiev.
Na rua Yablunska, onde foram fotografados do espaço, pelo satélite da empresa Maxar, corpos de civis com marcas de execução, juntam-se pessoas que esperam para comprar queijos e leite fresco, que um agricultor da zona vende numa carrinha. São quase todos mais velhos. “Já não podemos ir aos supermercados grandes, não temos pernas”, ri-se Yelena Alynich. Pouco depois havia de chorar, ao lembrar-se do que viu, viveu, perdeu, temeu na rua onde ainda vive, com a incredulidade nos olhos muito azuis e frios.
“Estávamos a 26 ou 27, não sei bem. Todos cheios de medo, os meus três netos, e os dois filhos, em casa comigo. As bombas caíam constantemente, sempre. Dia 9 de março, o nosso vizinho foi morto em sua casa, a chegar ao abrigo. Um colega da escola secundária foi morto à porta de casa, em frente à nossa”, aponta Yelena. E continua: “Ouvi três tiros e só três dias depois é que os russos permitiram à família levar o corpo. Quando a minha filha e o meu filho conseguiram sair com os meus netos, tiveram de lhes tapar os olhos, havia corpos nas ruas. Um dia vim cozinhar para a rua e, depois de jantarmos, ouvimos muitos tiros. Os russos retiraram não sei quantos homens de um abrigo atrás do nosso prédio, deitaram-nos no chão e dispararam sobre eles.
Por fim, a 16 de março, chegou a sua vez de se encontrar com o invasor. O marido de Yelena esteve no Afeganistão, lutou ao lado de russos. Eram seis, todos com metralhadoras. Ela reproduz assim o diálogo:
- Como podem viver com este palhaço do Zelensky? Não sabes que te viemos libertar?
- Libertar-me de quê?
- Como é que aguentam este palhaço?
- Já tivemos imensos presidentes, é só mais um, não quero saber, todos fazem coisas más. Vocês estão mesmo aqui porque o vosso Putin não gosta do Zelensky?
- Não percebes nada.
- Bem, acho que com o Yanukovych era pior do que com o Zelensky.
- Mas nem recebes pensão!
- Claro que recebo, tenho recebido pensão nos últimos 15 anos, nunca houve um ano em que não recebesse.
- Sabes que não existe nenhuma cidade chamada Simferopol?
- Existe, tenho lá um cunhado, foi tomar conta dos pais, que têm 90 anos.
- Queria dizer Mariupol. Já não existe, arrasámos a cidade do mapa.
Ela não disse mais nada, revistaram a casa, viram o marido na cama e partiram.
Já de noite, no caminho de Bucha para Kiev, paramos em casa de Diana Furzikova, 34 anos. Vive numa gigante torre de apartamentos perto do centro, mas a casa não é sua. “Não perdi as coisas mais preciosas, perdi o resto”, começa por dizer, enquanto vai fazendo festas aos três gatos feridos, resgatados de localidades na linha da frente, que adotou. O marido, Andriy, está em Bakhmut. A filha está com ela. Tinham montado um negócio de puxadores para janelas e maçanetas, feitos à mão. Por fim iam de férias.
“As nossas vidas só podem recomeçar quando a Ucrânia vencer”
No dia 25 de fevereiro, os bombardeamentos ao aeroporto de Hostomel, nos arredores de Kiev, soaram tão perto de casa, na vila de Vozel, que a família fugiu para Lviv, no oeste. “Como os meus vizinhos e amigos também fugiram, eu não sabia o que tinha acontecido. Depois uma amiga telefonou a dizer que a sua casa tinha ardido, chorei muito com ela ao telefone. Dia 18 de abril recebi pela primeira vez fotografias da nossa casa, num quinto andar. Levou com um míssil e ardeu. Durante meses recusei-me a acreditar, achei que era outra, que ia encontrar a minha vida onde tinha parado, mas não.”

O negócio não foi destruído, mas como o fabrico é manual, Diana não consegue entregar as encomendas enormes feitas por empresas de construção. Além disso, o marido, artesão, foi para a guerra, “apesar de sempre ter dito que odiava tudo o que se relacionasse com exércitos e armas”. Alistar-se foi a forma mais rápida de poderem ter ordenado a entrar em casa. “Claro que foi por patriotismo. Quis demovê-lo, mas não achei justo. As nossas vidas só podem recomeçar quando ele vier, quando a Ucrânia vencer.”
Já em Borodyanka, a cerca de uma hora de carro de Kiev, o frenesim da reconstrução mal se nota. A entrada da pequena cidade está como no dia em que os russos saíram, prédios negros nos andares de cima, pilhas de entulho e pedras, alicerces à mostra, plástico e fita-cola castanha em vez de janelas. Poucos voltaram. A noite cai cedo, pelas 16h já se identifica as casas habitadas, pelos poucos focos de luz.

Serhii Khomenko, dono de um ginásio, 33 anos, vem à janela por acaso. Acenamos e vamos bater-lhe à porta. A casa, no segundo andar, não ficou muito destruída, só as janelas estouraram. “Tinha uma vida tão boa antes da invasão! Tinha um ginásio aqui perto, transformei-o num abrigo antiaéreo, porque é uma cave, mas nem ali estávamos seguros”, conta. No dia 2 de março, com medo de encontrar tanques no caminho, Serghii e mais 15 saíram de Borodyanka às 4 da manhã, pelas florestas, em direção ao oeste. Encontraram boleia até Lviv, e daí foram de comboio para a Alemanha. A mulher e o filho, de 7 anos, não quiseram voltar. Serghii não o vê há quase um ano. Quer ir à Alemanha, as videochamadas não matam saudades. Escolheu regressar porque foi vendo que a cidade não estava a ser reconstruída. “Temos de ser nós, mais ninguém o fará.”
Na praça principal de Borodyanka há mais movimento. Num pequeno mercado as pessoas compram fruta, pão, cereais secos, feijão, legumes, há uma ala com tecidos para casa, toalhas de banho, toalhas de mesa, outra com calçado e roupa, incluindo lingerie, vestidos de verão, collants com brilhantes. Há ainda uma banca de utensílios essenciais para militares, negócio que vinga até nas mais isoladas aldeias: canivetes suíços, mochilas com fitas de velcro onde prender emblemas, e os próprios emblemas, dos “clássicos” com a bandeira da Ucrânia e o símbolo das forças armadas aos mais específicos, com grupos sanguíneos, botas quentes, balaclavas, camisolas de lã, golas de tecido polar, tudo verde-tropa.








Os dois maiores prédios da cidade estão negros, inabitáveis, muito longe de qualquer recuperação. Vão ser dinamitados e algo novo nascerá ali. São símbolo da devastação que os russos trouxeram, do topo de um deles pende um pano gigantesco com um código QR impresso. É possível, à altura do solo, apontar o telefone ao código e aceder a uma petição para retirar a Rússia das Nações Unidas. Em Borodyanka predominam as pequenas casas. Vitaly Yameriuk, 62 anos, vai levar galinhas ao vizinho, ao fundo da rua, depenadas e prontas a cozinhar, num saco de serapilheira sobre um carrinho de mão. Primeiro mostra-nos a casa, sem teto, só cá vem tratar das galinhas. Vive com o filho noutra casa longe do centro, que não foi atingida. Ficou aqui durante toda a ocupação.
“Não nos fizeram mal, mas destruíram a cidade e foi uma grande festa quando se foram embora, mesmo se não há grande coisa a festejar quando se olha aqui para fora”, diz. Admite que não acreditou numa vitória tão rápida à volta de Kiev, por isso acredita que Putin não aceite a derrota. “Quis e ainda quer a nossa capital, não consegue meter na cabeça que o império russo acabou, que a União Soviética não resultou, que somos um país independente. Já ninguém vê na Rússia um amigo, um aliado, mesmo antes da guerra poucos a viam assim. Não sei porque Putin achou que as pessoas o receberiam bem.” A sua maior alegria era ouvir os drones a arrasar os tanques. “Deitava-me a ouvir os drones no silêncio, aquele zumbido dava-me uma paz…”
Continuamos pela rua. Uma rapariga de casaco de inverno e pernas descobertas abre um portão novo. Muitos têm buracos de balas, amolgadelas, contorcem-se nas dobradiças, ou estão encostados aos muros das casas. Estava à espera do tio, que vem cheio de sacos de comida. A casa tem janelas novas, o resto vai levar meses a reparar. O telhado foi destruído por um morteiro que aterrou num quarto vazio. A protegê-los da chuva têm placas de zinco, que o Governo distribuiu. “Foi a única coisa que fizeram, e mesmo assim tivemos quase de suplicar.” Valeria Davydenko tem 24 anos e um mar de entulho a tapar-lhe o horizonte dos sonhos. Desilude-a a falta de investimento na reconstrução. Só pensa em mudar-se para o Canadá.
“Não quero que vivam num sítio onde tudo é guerra”
“Somos donos de uma empresa de construção e remodelação, vivíamos bem porque havia muita gente a mudar-se para aqui, é perto de Kiev, mais barato, menos barulhento. Mas a guerra acabou com o negócio. As pessoas fugiram, têm medo de voltar. A reconstrução é muito localizada em janelas e telhados e está a ser feita, na sua maioria, por organizações não-governamentais”. De cerca de 100 mil hryvnias por mês (€2500), a família passou a viver com o subsídio para deslocados internos, 11 mil hryvnias (€280) por duas crianças e dois adultos.

Da janela, Valeria viu os tanques a passar no dia 25. A família encontrou um albergue para refugiados internos não longe de Borodyanka, mas isso custou-lhes dinheiro. “Éramos dez pessoas. Ao início pediram-nos cerca de 1000 hryvnias [€23] por dia, depois conseguimos negociar 600, mas é muito dinheiro. Estamos a reconstruir a casa, onde sempre vivemos e onde os meus tios hão de viver o resto das suas vidas. Já não temos grandes poupanças, espero que nos reste o suficiente para sairmos daqui, ainda este ano.” O pai e a mãe de Valeria já morreram, o pai quando ela era criança, a mãe com um AVC, no abrigo, um dia antes da retirada russa.
As suas filhas, uma de 3 e outra de 5 anos, andam no infantário local, a funcionar normalmente. Não nota as meninas mais tristes ou birrentas, sintomas de possível trauma. É também por isso que quer levá-las quanto antes. “Os miúdos mais velhos, na escola primária ao lado, falam muito de guerra, já entendem tudo, mostram vídeos das coisas horríveis que se passam aqui, em Bucha, em Irpin, e não quero que vivam num sítio onde tudo é guerra.”
No quintal há restos de um tanque. “O que os nossos militares precisavam já vieram buscar, e o resto vai ficar aqui para eu explicar às minhas filhas, um dia, o que aconteceu ao seu país, como resistimos. Também guardei rações de combate, compotas, um casaco. A guerra, com todos os horrores que tem, serviu para a grande maioria dos ucranianos se unir num caminho, que passa o mais longe possível da Rússia, e dantes isso não era assim tão claro.”
Metros à frente da casa de Valeria, duas crianças fazem parar os carros para pedir dinheiro para o esforço de guerra. Andriy e Nazar, de 9 anos, querem comprar um drone Bayraktar, para entregarem à brigada do pai de Andriy. “Sim, temos escola de manhã, mas agora estamos aqui a pedir dinheiro”, diz Andriy, de casaco amarelo e azul com a palavra “Zeus” bordada no tecido.
De Kiev a Lyman
“Um país nuclear não perde”
É preciso dormir antes da viagem para leste. As distâncias entre as principais cidades são colossais. O destino final é Kramatorsk. Vamos pela estrada que une as terras de novo sob controlo ucraniano. Passamos por Sumy, pelos arredores de Kharkiv, descemos por Kupiansk, Izium e paramos em Lyman, distrito de Donetsk, no leste eternamente exposto. Halyna e Natalia, amigas de 62 anos, saíram há pouco do abrigo para apanhar ar.
Halyna tem problemas de mobilidade, Natalia, enérgica, de gorro rosa e brilho nos lábios, parece querer forçar a amiga a não esquecer que está viva. “Onde estão as nossas crianças?”, pergunta Halyna ao céu. Em maio, com a cidade ocupada há uma semana, um adolescente de 14 anos morreu no parque infantil, atingido por estilhaços de morteiro. “Foi aí que muitos dos que não tinham saído decidiram partir. A meio de junho já quase não havia casais novos cá”, conta. “A cidade está irreconhecível e não volta”, diz Natalia. Estiveram a viver em Dnipro, a 300 quilómetros para oeste, onde hoje se concentra a maioria dos refugiados das zonas mais perto da linha da frente. Acabaram por voltar, a pensão não chega para alugar o espaço, as famílias vivem em quartos arrendados, não se sentem em casa. Natalia deixa Halyna no abrigo e percorre o bairro para mostrar os enormes buracos que os ataques deixaram. Alguns são suficientemente fundos para esconder um adulto em pé, para quem passa na estrada.

Encontramos Andriy Dovhopoliy a fumar à porta do abrigo antiaéreo que se tornou casa. Na parede alguém escreveu “crianças”. Uma seta indica as escadas que levam ao refúgio. Enquanto descemos, conta que só quando se zangou é que a mãe e a avó começaram a preparar as coisas para o caso de terem de dormir no abrigo antiaéreo.
A primavera ia longa, a lama secara e permitiria um avanço mais consistente da artilharia russa, que disparava sobre a cidade com cada vez mais precisão e frequência. O ex-maquinista conseguiu arrastar as mulheres para o refúgio a 16 de abril. Nunca mais voltaram ao apartamento. Das 365 noites desta guerra, a família Dovhopoliy viveu 313 debaixo do chão.
Centenas de veículos militares de todo o tipo seguem quase colados. Autocarros civis em serviço especial vão cheios de homens fardados. O reforço de tropas, mantimentos e munições para a frente de Bakhmut entope o trânsito na reta de 50 quilómetros que liga Izium, última grande cidade do distrito de Kharkiv, a Sloviansk, a primeira de Donetsk.
As tropas russas continuam a avançar, ainda que as suas conquistas se meçam com fósforos. À entrada do distrito há um cartaz grande: “Donetsk, distrito inconquistado”. As paragens de serviço destruídas, desativadas, só servem para abrigar militares da neve densa e esta fixa-se nas barbas e nas sobrancelhas dos que nos pedem documentos. “Vão e venham a voar”, aconselham.
Lyman, a menos de 10 quilómetros da Rússia, foi ocupada de junho a outubro. Está de novo no caminho da ofensiva que todos temem, que tudo paralisa, esteja ou não à porta. A cidade foi libertada na grande contraofensiva ucraniana de setembro. Já não há tropas russas a despir homens para procurar tatuagens nacionalistas, os tanques já não estacionam nos quintais e não chove artilharia, mas a vida continua debaixo da terra, como há quatro meses, quando a cidade era russa, ou como há dez, quando o exército de Vladimir Putin tentava capturá-la. A libertação é um lugar sem aquecimento, água corrente, lojas de comida, vidros nas janelas. Segundo escreveu na rede social Telegram o diretor da administração militar de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, pelo menos 1320 civis perderam a vida e 2896 ficaram feridos.
“Queremos paz. Mais nada”
Por cima das garagens unidas num labirinto de quartos improvisados ficam os apartamentos inabitáveis de quem não fugiu. No quarto dos Dovhopoliy há três camas e uma salamandra. É tudo o que cabe. A maioria da comida chega por via de organizações humanitárias, mas muitos queixam-se de poderem ficar sem nada caso não vão para a fila. Quem lá está leva o dobro ou triplo do que precisa. Passado e presente não se distinguem, e o futuro é vivido à sombra da ofensiva com que o Kremlin espera marcar o primeiro aniversário da invasão.
A lenha a arder nestes quatro metros quadrados gera calor opressivo, artificial. Lá fora o termómetro está sete graus abaixo de zero. Andriy traz uma boina preta de fazenda que lhe esconde um pouco o rosto. Quando dobra a pala para cima veem-se pingos de suor na testa, que limpa com a manga do casaco. Sem trabalho, distribui culpas irmãmente por todos os intervenientes na guerra que dura há quase dez anos no Donbas. “Queremos paz, mais nada, que os militares saiam, tanto os nossos como os deles. Vivíamos e trabalhávamos em paz, a estação era a vida desta cidade, agora os carris estão partidos. Trabalho, paz, silêncio, não precisamos de mais nada. Só peço que ninguém atire sobre as nossas casas e que…”
Interrompe-o a avó, Lyubov Dovhopoliy, 80 anos, olhos vermelhos, até então silenciosa a olhar o neto. Eleva os braços para o teto. “Não há paz na terra, não há paz no céu, a campa do teu avô levou com um morteiro em cheio, nem os mortos de Deus têm paz.” A mãe de Andriy não fala, não quer ser fotografada, tem um sorriso breve, está no estertor da paciência. Andriy leva-nos por corredores escuros e explica, baixinho: “Quando os russos chegaram, também começaram a filmar e a fotografar. Agora os militares ucranianos estão à procura de pessoas que terão falado contra a Ucrânia”. Os russos quiseram filmá-lo a dizer quem eram os culpados pela destruição. “Respondi que os invólucros dos morteiros não trazem a nacionalidade escrita.” No vídeo, tais palavras foram retiradas de contexto, diz Andriy, por isso a família teme represálias. “Ambos os lados atacam, mas os ucranianos estavam a defender-se, eu estava a dizer a verdade”. Há outra verdade que não teve coragem de dizer ao ocupante: “Sei que foram disparos de um tanque russo que atingiram o nosso apartamento, vi-os a elevar o canhão e disparar para cima, para todo o lado.”










É um dos habitantes mais novos do bairro. Tem 39 anos. Só os mais velhos ficaram. Dos que fugiram, só os mais velhos voltaram. As pensões dão para botijas de gás, lenha, gasolina para os poucos que ainda têm carro, não para alugar casa noutra cidade. A casa de Andriy não está muito destruída, mas o Governo dificilmente investirá nas janelas novas que ele pede até se saber o que vai acontecer na primavera. “Quando os ucranianos voltaram, disseram que iriam reconstruir a cidade, mas não estão a fazer nada, porque é possível que a ofensiva recomece aqui”, diz. Não têm para onde fugir. O resto da família, em Poltava, a oeste, mais longe das intenções russas, não os quer. “Dizem que somos separatistas, que foi por nossa causa que os russos vieram, acham que lhes demos esperanças, que queríamos ser russos.” E querem? “Não, mas sentimos que a Ucrânia não precisa de nós. Por isso só queremos pedir a paz, sentar os líderes à mesa de negociações. Há uma correlação inversa. A Europa está a ajudar-nos com armas, mas quanto mais armas nos enviarem, mais o conflito se agravará. Se pararem, o conflito vai diminuir. Têm de entender que a Rússia é um país nuclear, e um país nuclear não perde.”
A avó Lyubov interrompe de novo. “Será como está escrito na Bíblia, olho por olho... e não sobrará uma única pessoa aqui. Já não vou viver o suficiente para regressar a casa”. Andriy olha para ela com uma expressão entre divertido e confuso. Diz que é “tonta”, que a casa “só tem infiltrações e o telhado danificado”, que tudo se vai resolver se os estrondos que se ouvem ao longe não se aproximarem.
“Esta é a minha terra, e esta terra fica na Ucrânia”
Noutra cave, outra senhora Lyubov faz festas à sua chinchila. Migrou para o subsolo também por causa do animal. Rodopiava na sua jaula, não comia, perdeu parte do pelo, tudo culpa do stresse dos constantes bombardeamentos. Nos tubos onde a água não voltou a correr pendurou uma bandeira amarela: “Amo-te Ucrânia”. Vem do tempo da Revolução Laranja, de 2004, quando milhares se revoltaram contra a vitória duvidosa de Viktor Yanukovych, próximo de Moscovo, nas presidenciais. O verdadeiro vencedor fora o pró-ocidental Viktor Yushchenko, garantiam os manifestantes, entre eles Lyubov Surzhan, de 66 anos.

Em 1982 casou-se com um russo, veterano da guerra do Afeganistão, e mudou-se para Nizhny Novgorod, cerca de 500 quilómetros a leste de Moscovo, onde nasceram os dois filhos. Os pais dele não gostavam dela nem tratavam os netos como tal. Um dia fugiu para casa dos pais, em Horlivka, a leste de Lyman e agora território russo.
Um dos filhos foi assassinado há três anos, na véspera do 36º aniversário, por ter ido pedir dinheiro que lhe era devido a quem não lho queria pagar. Para conseguir falar disso, Lyubov dá três socos no próprio peito, ato de violência repentina que assusta os que a escutam, mas não impede as lágrimas que quis estancar. “Está enterrado do lado ocupado, nem posso ir visitá-lo”, diz, apontando algures para trás de si.
As fotografias da sua juventude, desbotadas, estão presas com alfinetes ao cartão dos caixotes, que servem de cómoda improvisada, onde tem batons, perfumes, creme para as mãos, bolachas, chá, livros, uma agenda e tangerinas. “O meu outro filho e a minha nora ligam-me todos os dias para ir ter com eles a Dnipro, mas já decidi que vou morrer aqui. Nenhum distrito é seguro. Moro aqui há 39 anos, é a minha terra, e esta terra fica na Ucrânia.” Perdeu 15 quilos nos quatro meses de ocupação e, para mostrar a recém-adquirida elasticidade, faz agachamentos. Estica a perna direita, faz quase um ângulo reto em relação à esquerda. “Todos dizem que pareço muito otimista, só que ninguém vê o que acontece à noite, não sabem o que choro. O meu coração está feito em milhares de pedaços.”
A noite cai de uma vez, mas Lyubov ainda quer mostrar o que resta do seu apartamento. Sobe as escadas do abrigo, dobra a esquina e aponta para cima. Era um prédio de cinco andares, o seu é o que falta. Ficaram duas ou três paredes enegrecidas, as ruínas recortam o pôr-do-sol, laranja como a lava. Despede-se, tem de ir aquecer água num tacho para tomar banho e só há um fogão, com um bico, para as cinco pessoas que aqui vivem. “Ao menos durmo bem, já não vêm os russos com espingardas pedir os documentos às duas, três, quatro da manhã.”

Por todo o lado há casas desabitadas, carros queimados, telhados com enormes buracos. Não é fácil saber se os estragos são deste ano ou de qualquer outro da década de horror no Donbas. A pretexto de salvar os russófonos de um genocídio que nunca aconteceu, a Rússia armou milícias que começaram a desestabilizar a região. O resultado é este pântano de medo constante. A ordem é para apagar as luzes quando fica escuro, o céu parece um observatório, cúpula de constelações nítidas, completas, porque não há poluição luminosa.
Não há ninguém na rua. Começa a ouvir-se o barulho das lagartas de um tanque, parece perto. Surge do meio das casas, traz pelo menos 20 homens, encavalitados uns nos outros. Maksym, o intérprete, não contém um grito: “Glória à Ucrânia!” Eles, à procura da fonte daquele apoio repentino, numa estrada mergulhada na noite espessa, apontam os telemóveis à berma e identificam o rapaz sorridente. Dura uns segundos, mas é uma festa. “Glória aos heróis!”, gritam todos.
De Lyman a Chasiv Yar
“‘Esconde-te! Deita-te!’ Mas onde?”
Kramatorsk, onde funciona a administração de Donetsk desde 2014, acorda às 7h com uma forte explosão. Parece ter atingido o centro da cidade, milhares de botijas de gás a explodir em simultâneo. Quando todo o hotel corre às janelas, só se vê uma linha de fumo em espiral, quase a desaparecer no horizonte. É Bakhmut. Se cair para o lado russo, o próximo alvo no caminho para Kramatorsk é Chasiv Yar.
Os militares que fazem fila para café e cigarros no moderno e imaculado supermercado de outra vila da zona, Kostyantinyvka, tentam demover-nos de visitar a próxima linha da frente, mas Maksym tem um amigo destacado no exército algures por aqui. Ligamos. Yar chega em dez minutos e leva-nos no seu jipe a Chasiv Yar, só não aceita dar o nome completo porque os pais não fazem ideia de que está na pior frente do conflito, muito menos que se alistou voluntariamente nos batedores de território inimigo. A vila está sob ataque, ouvem-se rajadas de metralhadora. “São acopladas aos tanques, não se assustem, não são metralhadoras de mão”, diz, esperando acalmar o próprio Maksym, que tanto se opusera à incursão. De vez em quando ouvem-se os Grad, sistemas de lançamento múltiplo de morteiros usados pelos dois exércitos.
Mais uma cidade deserta. Vamos até à praça principal, ninguém. Devagar, no jipe de Yar, percorremos ruas, à espera de ver uma loja, uma bicicleta. Há sempre alguém de bicicleta nas zonas afetadas por escassez de combustível.

Yar aproveita para falar sobre a guerra. Os amigos de Kiev cansaram-se de o ouvir. “Não sei o que as pessoas pensam um ano depois, parece-me que metade do país deixou de pensar na guerra. Sempre soube que isto seria longo, os meus amigos parece que não, começaram a ficar desiludidos, desanimados por não termos vencido em poucas semanas, ou meses.”
Antes da guerra, Yar trabalhava num instituto de análise de risco para investidores, fazia relatórios sobre política interna russa. É formado em Relações Internacionais. Enquanto guia pelo alcatrão triturado, em caminhos emoldurados por restos de projéteis, admite que a vitória está longe. “Houve uma rotação de brigadas, e a situação está mais controlada. Mas há uma semana, os nossos homens tiveram de abandonar posições, as baixas eram de tal forma elevadas que não foi possível encontrar soldados suficientes para substituir os feridos e os mortos. Conheço rapazes que foram mobilizados há uma semana e já estão aqui, sem treino, não aguentam a linha. Foi preciso recuar, o que abriu caminho aos russos. Só vim para Bakhmut cinco meses depois de me ter alistado.” Tem 25 anos, não foi chamado para a guerra, isso só pode acontecer, por lei, depois dos 27. Quis vir.
“A minha cave é robusta e está cheia de coisas”
Algo estoura muito perto. Paramos para falar com o primeiro civil que aparece. Serguei Maruniak rebaixa os bancos da sua pequena carrinha para lá pôr uma bicicleta e nem parece ter ouvido o estrondo. “Vá para dentro”, interpela-o Max. “São tiros dos ucranianos, estes tanques estão estacionados mesmo ao lado da minha casinha no lago, para onde vou”, diz-nos, atarefado e divertido perante os olhos esbugalhados do intérprete. “Sei o que estão a pensar, que não tenho para onde ir. Até tenho, a minha mulher, três netas e duas filhas vivem em Kiev, mas a minha fazenda está aqui: galinhas, patos, um porco, não posso deixá-los”. Os russos estão a caminho, sabe-o. “A minha cave é robusta e está cheia de coisas. Posso sobreviver ou não, mas já vivi a minha vida.” Maruniak tem 60 anos. É de Bakhmut, onde tinha uma casa que já não existe. “Não resta vestígio da vida da minha família, é uma vergonha, queimam tudo, que libertação é esta? Vivíamos tranquilos, queimam tudo por onde passam”. Antes da invasão trabalhava nos correios, depois de 24 de fevereiro ficou incumbido de fazer soar as sirenes, conforme os pedidos da administração militar. Costumava receber informação pelo Telegram, tinha um iPad de onde emitia a ordem de alerta, mas há semanas que não há internet nem sirenes.

“Esta guerra não tem nada que ver com a de 2014, nem com as batalhas à volta de Kiev, parece piada ao pé disto. A intensidade é diferente, a resistência ucraniana é muito mais poderosa. Os dois lados só conseguem conquistar grandes porções de terreno após batalhas gigantes, massacrantes, daí que haja tantos mortos. O nível de violência é atroz”, continua Yar. Vê-se a lutar num local que não compreende, onde nem todos compreendem o que defende. “Um número considerável de pessoas aqui acha que os russos deviam conquistar-nos. O Donbas é um organismo à parte. A esmagadora maioria em Kiev ou Chernihiv apoia a Ucrânia incondicionalmente, aqui não posso dizer que seja o caso. Nessas cidades, os russos estavam a lutar em território estrangeiro; aqui não, os que querem viver na Ucrânia há muito saíram e, por vezes, sentimos que estamos a lutar na casa do inimigo.”
É desanimador? “As coisas não são tão cor de rosa como o Governo quer transmitir, porém tenho a sorte de saber a razão da minha luta. E não é só pela Ucrânia. Para o Ocidente é um momento único, pode ser que consigamos tornar a Rússia um país normal. Não é preciso esmagá-los, erradicá-los. Só temos de retirar a Ucrânia das garras de Moscovo e permitir que os russos comecem uma nova era. O nosso contributo será a derrota do exército russo, do regime que mantêm, mas quem tem de modificar o país são os próprios russos. Talvez, se perderem a capacidade de conquistar outros países, as pessoas na Rússia deixem de ver nas forças armadas a única fonte de prestígio e poder e consigam ter um país normal, com relações normais com os vizinhos.”
“Nas últimas duas semanas o número de mortos aumentou significativamente”
Donbas é a fratura exposta do exército russo. Quebrou-se aqui o orgulho imperialista que se senta no Kremlin e que continua a enviar milhares para a morte, em ondas avassaladoras, que os ucranianos repelem com muita dificuldade. “Temos uma tarefa difícil, a propaganda russa atingiu o nível de uma ciência. Em todos os territórios que foram perdendo — Kherson, Kharkiv, arredores de Kiev —,dizem aos cidadãos que mais mês, menos mês, vão voltar a atacar. É uma guerra em constante evolução, o que me diz que não há limite de tempo, vão atirar-nos tudo o que têm”, lamenta Yar, ainda assim otimista. “Há um momento de liberdade para todas as nações, acredito nisso, até para a Coreia do Norte haverá. Quem poderia adivinhar em 1945 que a Alemanha seria o que é hoje?”
De regresso a Kostyantinyvka, recebemos resposta do centro de estabilização de feridos que pedimos para visitar. É para aqui que vêm os homens da frente, recebem cuidados médicos de urgência, por vezes só injeções de morfina ou outro embrutecedor de terminações nervosas, antes de seguirem para tratamentos mais demorados. O cirurgião Konstantin relata uma noite complicada, 17 feridos graves, não havia espaço para todos, espalharam-nos no chão, sobre cobertores. “Nas últimas duas semanas o número de mortos aumentou significativamente.”






Ouve-se um som de derrapagem na curva que leva ao hospital, escondido entre árvores. Konstantin começa a correr para o pátio. O condutor, que vem no início da estrada, abre a janela e grita: “Sniper! Cabeça, ferimento de sniper”. A maca está à espera, as portas de trás da carrinha abrem-se e salta de lá uma médica pequena, elegante, com óculos de esqui e dois anuladores de som nas orelhas. Ajuda o ferido a pôr-se na cama, está quase inconsciente, vem de cabeça ligada em gaze, metade ensopada de sangue. A médica e os outros soldados regressam para ir buscar mais gente. O ferido entra e sai passados 10 minutos, para um hospital mais bem equipado. Uma das paramédicas, Laima, nome de guerra “Mamba”, sai para fumar.
Caem-lhe lágrimas de nervos e ódio. “São como gafanhotos. É como se estivessem a reproduzir-se numa questão de horas. Não entendo de onde vêm tantos. Ontem resgatámos feridos duas vezes sob fogo. Um tinha uma ferida na virilha, tinha de ser resgatado com urgência, caiu numa trincheira e puxei-o pelo colete à prova de bala. Começámos a ser bombardeados. Os nossos militares gritaram-me ‘Esconde-te! Deita-te!’ Mas onde? Os bosques estão enxameados, a sério. Sou mãe, estou aqui porque quero proteger a minha filha, sou voluntária desde 15 de março. Que Deus me perdoe, mas pelo menos uma vez deviam sentir o que sentimos. Não sinto culpa, faço contas com o Todo-Poderoso quando chegar a minha vez, agora só quero que sofram.”

Não é fácil interrompê-la. Chega um sargento, “Petko”. Fica a ouvi-la. “No dia 24 estava de plantão em Kharkiv, quando a guerra começou. Há 25 anos que conduzo ambulâncias lá. Nunca vou esquecer aquele bebé, tinha sete dias, explodiu um míssil, os estilhaços mataram-no. Era uma menina, a mãe morreu pouco depois. Prisioneiros? Não quero fazer prisioneiros, estou disposta a matá-los. Mas com que armas? Os voluntários são os desprezados do exército, não temos nada. As unidades não têm condições, não tenho medo de falar. Vejo civis mortos, tantos, todos os dias, não podemos tirá-los da frente, dar-lhes enterro digno”. “Petko” faz que sim com a cabeça, os olhos no chão, onde traça linhas na neve com a ponta da bota. “Temos dois carros civis para retirar pessoas”, contrapõe. Laima abana a cabeça. “Digo-vos, o que sinto é que ninguém quer saber se aqui estamos. Não há rotação de tropas. O Governo dá 150 mil hryvnias [cerca de €3800] a uma família que perdeu um soldado. Acho que tem piada, só pode ser para me rir.”
Precisa de boleia até à entrada de Bakhmut. Não nos deixa levá-la. No dia seguinte, a cidade seria decretada território proibido para jornalistas e organizações humanitárias. Apenas o exército pode ir buscar civis e levar comida, pelo menos até dia 24, informa o comando militar local.
Voltamos para o hospital. Há homens com concussões das ondas de choque dos morteiros num quarto com cinco camas. Nada de grave. Soro e descanso. Aceitam falar, mas só um o faz. É o ex-presidente da câmara de Rava-Ruska, perto da fronteira polaca: Mykola “Kamaz” Zinko. O “Kamaz” vem de ter tido um acidente grave com um camião “Kamaz”. É figura pública, há artigos sobre ele em páginas de perfis de heróis da Ucrânia que se multiplicam pela internet. Esteve no Donbas a lutar em 2014 e 2015. “A nova ofensiva é bem visível, já cá está. Os reforços russos são na infantaria, enviam ondas de soldados, pode acontecer quatro ou cinco vezes por dia. É impressionante. Estão em Bakhmut com o exército regular, os Wagner, tudo junto”. Foi eleito pelo partido ultranacionalista Svoboda, mas não se reconhece da extrema-direita, apenas “defensor da Ucrânia”. O partido teve 2,5% nas últimas eleições, nem atingiu o limiar de 5% exigido para eleger um deputado.
Konstantin tem o símbolo do batalhão Azov no casaco, mas aqui ninguém vê problema em pertencer a formações político-militares que, no Ocidente, são tantas vezes definidas como supremacistas e fascistas, muito devido às declarações de alguns dos seus ex-comandantes, dos quais o batalhão se tem dissociado nos últimos cinco anos. Muitos homens que combatem no Donbas desde 2014 dizem que foi a única forma de resistência durante meses, até o fragmentado, mal pago, mal equipado e pouco treinado exército ucraniano começar a organizar-se. Konstantin não liga a acusações. “No início, o batalhão Azov eram ultras do futebol, claro que essas claques têm extremistas, mas agora é um batalhão como qualquer outro, há judeus a lutar connosco, o nosso Presidente é judeu. É um pouco irritante continuar a falar-se disso como se fosse generalizado, como desculpa para o que os verdadeiros imperialistas e fascistas, daquele lado, estão a fazer aqui.”
De Chasiv Yar aos arredores de Vuhledar
“Estar na frente pode ser confuso, miserável”
A frente leste forma um quarto crescente por cima do território ucraniano. Começa à volta de Drorichna, 100 quilómetros a leste de Kharkiv e continua, passando por Bakhmut e Vulhedar, onde mais homens de ambos os exércitos têm morrido, até atingir uma reta até à foz do Dniepre, a sul, perto de Kherson. A Crimeia está ali por baixo e é por isso que a conquista de Kherson, única capital de distrito que os russos capturaram, foi tão rápida. Saímos de Pokrovsk pelas 6h da manhã. Temos de estar numa vila perto de Vulhedar às 8h30. O plano é esperar num cruzamento de quatro ruas, cujas coordenadas o assessor de imprensa da brigada envia ao nosso intérprete. Nada existe além de um manto de neve à nossa frente.
Quando saímos do hotel a visita aos aposentos da 1ª Brigada era exclusivo para o Expresso. Passadas duas horas avisam-nos que também andam por aqui a BBC, “The Washington Post” e “The Wall Street Journal”. A guerra tem várias frentes e uma delas é a económica. Vendem-se armas, mas também pacotes de histórias, a preços variáveis conforme a oferta e a procura. No mês em que a guerra faz um ano, um intérprete, um “negociador de contactos”, como se apelida Maksym, um motorista, pode pedir o dinheiro que quiser.
O aquartelamento da 1ª Brigada de Carros de Combate fica a cerca de 10 quilómetros do ponto de encontro inicial. Seguimos o carro de um dos membros da brigada, a estrada é incomparavelmente pior que a principal. O carro guina no lamaçal, na rasputitsa, nome russo para os meses em que mover máquinas em terreno não alcatroado é tão difícil, devido ao degelo, que a palavra se tornou sinónimo de situações em que quase tudo pode correr mal.
Chegamos. Há casas subterrâneas e trincheiras a ligá-las. Pelos telhados sai o tubo que indica a presença de uma salamandra, antecipação de conforto em quase todos os bunkers por onde o Expresso foi passando. Na camarata de “Libelinha” vivem seis homens em três beliches. Há café, bananas, muito pão, panelas, sopa instantânea, latas de feijão e carne. A gata do regimento está enrolada em cobertores. Chama-se "Sardinha".
“Libelinha” tem 26 anos, é soldado porque quer, e o seu trabalho é disparar contra posições russas. Já foi mais complicado. Agora é coisa que faz sem remoer na culpa, já não vê o inimigo como homem igual a si.








Mesmo que a guerra só tivesse durado seis semanas, a 1ª Brigada de Carros de Combate do Exército Ucraniano já tinha lugar na História. Foram estes homens e os seus tanques que evitaram a entrada dos russos em Chernihiv, perto da fronteira bielorrussa. Seguiram pela autoestrada que leva a Kiev, disparando sobre o semicírculo que a coluna de tanques russos manteve à volta da capital, um mês.
Em teoria, era uma batalha impossível. Esta brigada tinha cerca de 2000 homens e perto de 100 tanques T-64B e T-64BM, os melhores do inventário ucraniano, mas o contingente inimigo, que penetrou sem resistência até aos arredores das duas cidades, tinha mais de 20 mil homens e um número “incontável” de tanques, diz “Libelinha”, nome de guerra do soldado de 26 anos que nos mostra o aquartelamento de parte da brigada, posicionada perto de Vuhledar, pequena cidade que assenta na interação entre a linha da frente a leste, em Donetsk, e a sul, na região de Zaporíjia. É um dos cenários mais violentos da guerra.
O porta-voz do exército ucraniano, Oleksii Dmytrashkivskyi, anunciou no início da semana que duas brigadas de elite do exército russo a combater na área tinham sido dizimadas. Vuhledar está a tornar-se mais um exemplo da fragilidade da grande ofensiva que Putin prometeu. “Libelinha” falar ao lado de um pano negro com o rosto de Nestor Makhno estampado. É um ídolo no sul da Ucrânia, anarco-comunista que lutou no Exército Revolucionário da Ucrânia no início do século XX, primeiro contra a Rússia dos czares, com o objetivo de criar um país independente. “O meu trabalho é identificar alvos russos e disparar. É o que faço todos os dias. Quando as tropas russas começam a tentar quebrar a nossa primeira linha de defesa, saímos e vamos mais perto, ajudar a infantaria — e disparamos”.
Antes de vir para aqui, “Libelinha” e os colegas combateram em Bakhmut. Resta uma estrada para sair da cidade, constantemente sob bombardeamento. Foi numa das estradas, entretanto conquistada pelos russos, que “Libelinha” viveu os dias mais perigosos. No fim de junho, o tanque onde estava foi atingido, os quatro ocupantes escaparam, mas a máquina ficou inutilizável, queimada. “Todas as manhãs íamos para a estrada que os russos tentavam conquistar, disparávamos o que tínhamos em dez minutos, voltávamos, recarregávamos munições e regressávamos à frente. Fomos atingidos, o tanque não pôde ser reparado, mandaram-nos para aqui, onde temos outros tanques.”
A cerca de 10 quilómetros das trincheiras de “Libelinha”, uma casa civil, com gradeamento azul, palheiro no quintal e cortinas floridas nas janelas esconde a posição da companhia de Operações Especiais, que faz parte da 1ª Brigada de Carros de Combate. As suas armas são drones. É daqui que saem as coordenadas que ajudam “Libelinha” a disparar com mais precisão. A maioria do trabalho é informático, há computadores a receber e a organizar a informação enviada pelas dezenas de drones de reconhecimento espalhadas pelos céus de Vuhledar e arredores.
“Nunca nos falta trabalho, estejam descansados”
Na sala de estar um ecrã ocupa metade da parede. O comandante da companhia, “Tiger”, passa quase o dia todo a olhar para ele. Não se pode fotografar. Vê-se a linha da frente, com um zoom de 20 vezes. A imagem é surpreendentemente nítida, tendo em conta o nível da aproximação, e chega quase em tempo real. “Estar na frente pode ser confuso, miserável. Os nossos rapazes estão horas sem saber o que estão a ouvir, de onde vêm os disparos, se são da nossa artilharia, nunca sabemos onde nos esconder, é terrível. O nosso trabalho é dar-lhes mais informação.” Os russos estão a menos de sete quilómetros. As posições de tiro estão a dois quilómetros das forças de Moscovo. “Dou as coordenadas, olho e vejo onde explodiu o nosso projétil. Daqui conseguimos avaliar o que acontece ao alvo. Se não for destruído à primeira, as nossas posições de tiro continuam a atingi-lo até estar arrasado.”

Ao lado da imagem principal no ecrã há dezenas de pequenas “janelas” com os avatares dos operadores das máquinas, os olhos dos “tanquistas” no terreno. Cada parcela da frente é escrutinada por uma companhia diferente. “Tiger” tem um certo número de quilómetros quadrados para cobrir com os seus binóculos alados, não se mete nos outros terrenos. “Nunca nos falta trabalho, estejam descansados”, diz, a sorrir. Também há drones armados e suicidas, mais raros, porque o seu custo é elevado. “Esses não usamos para destruir um camião TIR que leva ração de combate, só para destruir tanques. Gostava de ter muitos, são lindos, voam dez quilómetros da primeira trincheira e deixam presentes aos russos.”
“Tiger” combateu no cerco de Chernihiv, e depois em redor de Kiev. Diz que a força da Ucrânia está na forma como o povo vê as forças armadas. “Todos os dias quando saíamos do quartel, às 6h da manhã, com gelo sobre os carros, os motores nem pegavam, encontrávamos uma velhinha com dois baldes de sopa. Quando nos chamaram para defender Chernihiv saímos a correr, eu só tinha botas normais e em 12 horas já me tinham oferecido três pares quentes, resistentes, impermeáveis”. Não acredita em negociações, só em “ataques constantes” para que “os russos não se esqueçam do que sofreram na Ucrânia”.
“Libelinha” tampouco. No início da guerra via os russos como soldados, inimigos mas ainda assim soldados, com regras e códigos de conduta. “Depois do que se passou em Bucha, Irpin, e depois Izium… cada vez que um local é libertado as notícias demonstram os atos doentios dos russos. Não é possível sentir compaixão.” Vai continuar a lutar pela forma de vida na Ucrânia, pela liberdade. “Em 26 anos sempre disse o que quis, até no exército. Nunca ninguém oprimiu os meus direitos. E como é que eles vivem na Rússia? Uma pessoa vai a uma manifestação pacífica e é detida na hora. Não podem sequer ter opinião, não quero isso para o meu país.”
Kherson
“Estão livres, meus queridos”
Uma dieta diária de macarrão, água e choques elétricos. Segundas, quartas e sábados tortura nos ouvidos; terças, quintas, sextas e domingos nos órgãos genitais. Andriy Andryushchenko tem esta e outras piadas sobre o período de 47 dias em que foi torturado numa prisão russa. Diz que é a forma mais fácil de lidar com o que lhe aconteceu. Não voltou a pôr todos os dentes que lhe arrancaram, precisa de um montante considerável. Já pôs um na frente, os outros não se veem, nem sabe quantos são.
Durante oito meses de ocupação, as forças russas tentaram neutralizar, à força de longos períodos de encarceramento e maus-tratos, essa erva daninha que é a resistência civil.
Andriy tem o colete antibalas pejado de insígnias oficiais, é agora um orgulhoso membro da administração militar local, diretor do departamento de auxílio humanitário. Antes da guerra era o que se pode chamar um empresário da noite, ocupação que lhe serviu de disfarce um tempo.

Espera o Expresso à frente do café Pato Negro, onde muitos membros da resistência se encontravam durante a ocupação. O dono, “Vova”, continua com medo dos informadores e não se alonga quando pedimos um café para o caminho. “Sim, era um sítio seguro para todos os partisans, mas os russos estão mesmo do outro lado do rio, temos informadores e não quero um alvo por cima do meu café.” Vai para a cozinha. Os pequenos copos azuis e amarelos em que serviu o café, alegando não ter outros quando os russos rejeitavam aqueles, estão em exposição em cima do balcão. “Tudo será Ucrânia”, lê-se por baixo de um mapa que inclui os contornos da Crimeia e do Donbas.
“Fuck Russia”, “Kherson nunca vai ser vosso”
O som dos morteiros a cair nos arredores da cidade é constante. Por vezes caem no centro. Na véspera de Natal morreram 10 pessoas. O exército russo foi expulso para o outro lado do Dniepre, por lá ficou, a aterrorizar esta margem com ataques aleatórios de atiradores ou chuva de morteiros sem alvos específicos. Quinze dias depois da libertação da cidade já tinham morrido 30 pessoas em bombardeamentos vindos do outro lado. A contagem ultrapassa agora as cem vítimas. No fim de uma hora de disparos começam a passar ambulâncias na rua principal, sem sirene, mas a derrapar nas curvas. Não há fogo de artifício na Ucrânia nem sirenes nas ambulâncias, não é permitido emitir sons parecidos com os da guerra.
Começamos a caminhar pelas ruas, através do itinerário que Andriy tem na cabeça. As razões por que foi preso estão espalhadas pelas paredes: “Fuck Putin”, “Tudo é Ucrânia”, “Fuck Russia”, “Kherson nunca vai ser vosso”. Foi ele que grafitou tudo.

“Ali, naquele prédio, veem? Escrevi ‘Slava Ukraini’ com a palavra ‘Slava’ por cima e ‘Ukraini’ por baixo, em vez de numa mesma linha. Quer dizer que aqui vivia um colaboracionista, avisa as pessoas do prédio de que devem ter cuidado com o que dizem aos vizinhos”, diz Andriy. Antes da ocupação, começou a abastecer a sua casa de coisas de que poderia vir a precisar para resistir. Os russos entraram em Kherson pela Crimeia a 25 de fevereiro. A 2 de março tinham conquistado a cidade. A resistência militar quase não se fez sentir. “Ficámos nós, os civis. O exército fez uma opção estratégica de retirada, para depois atacar com mais força, mas eu, se saísse, sentir-me-ia como se tivesse capitulado, e sei que muitos companheiros sentiam o mesmo.”
Em viagens de carro, em diferentes horas, começou a distribuição de walkie-talkies, velas, spray, fita-cola, cartolinas, gás, pilhas, pelas casas dos outros partisans, como se apelidam. “Fizemos isto por duas razões: manter o moral das pessoas que ficaram e mostrar ao mundo que não somos necessariamente apoiantes do regime que nos invadiu”. Por essa missão quase morreu. O sítio onde esteve preso servia, antes da guerra, para manter as pessoas enquanto não eram decretadas medidas de coação. É um corredor com 24 celas, 12 de cada lado. Andriy passou por várias. “Numa cela para três pessoas havia sempre sete ou oito. Uma refeição por dia: um prato de macarrão e um copo de água pela manhã. Quando uma nova pessoa era trazida e se recusava a falar, ninguém podia dormir até ela falar. Muitos apanharam dos companheiros.”
“Por vezes havia execuções fictícias”
O porta-voz da polícia de Kherson, Andryi Kovany, que nos leva pelos calabouços, revela que a Procuradoria-Geral abriu pelo menos 8000 processos criminais relativos à prática de crimes de guerra nas prisões da cidade. “Temos provas de que mais de 300 pessoas estiveram aqui detidas. As suas identidades foram apuradas, estão a testemunhar. No entanto, recebemos novos contactos todos os dias e ainda não sabemos o número exato de vítimas destas câmaras de tortura.”
O hino da Rússia está escrito em quase todas as paredes. “Morte aos nazis”, “Não mintas”, “A Rússia vai vencer”, “Tudo será Rússia”, “A Ucrânia é Rússia”. Frases como estas enchem o espaço que resta. “Nesta sala havia sessões de choques e afogamento simulado”, conta Kovany. É uma sala grande, com um grande bidão n de água no parapeito. “Por vezes havia execuções fictícias. A pessoa é levada a crer que vai morrer, e depois volta para a cela. Era neste corredor que se faziam torturas demonstrativas, fora de portas, para todos verem.”










Numa das celas, onde é preciso a luz do telemóvel para ver onde pomos os pés, o chão está cheio de folhas A4 , todas com as mesmas duas imagens impressas, lado a lado: uma mostra um soldado ferido, ensaguentado; na outra vê-se o mesmo rosto já limpo, muito menos maltratado. Por baixo lê-se qualquer coisa como: “Russos, rendam-se e salvem a vossa vida”. É material que os membros da resistência ucraniana deixam nos para-brisas dos carros russos, em molhos à porta dos edifícios governamentais ocupados, nas casas de banho dos cafés e restaurantes. Andryi Kovany acredita que estas folhas foram trazidas para aqui a par com o suspeito da sua distribuição - e não tem dúvidas que a pessoa que esteve aqui presa, e que provavelmente se deitou no colchão imundo ao fundo da sala, foi torturada. “Algumas das pessoas que já testemunharam foram presas por coisas como terem uma bandeira da Ucrânia no telemóvel, ou uma fotografia dos filhos vestidos com uma camisola de futebol de uma equipa de futebol ucraniana, agora imaginem o que acontece a quem distribui material a apelar à rendição dos russos”.
Andriy foi preso a 4 de agosto, num dos bares que geria. Tinha toda a aparência de negócio falido há muito, mas era a sede do seu grupo resistente. “Fui espancado ali, depois num dos apartamentos que tenho em meu nome, logo no outro, onde vivo. Não faltavam provas da minha lealdade à Ucrânia.” Durante 47 dias, foi interrogado por militares. “Todos acham que têm métodos mais persuasivos do que o tipo do dia anterior”, diz a sorrir.
O mais difícil foi ouvir “gritos frescos” das pessoas trazidas para a prisão. “A cada um que chegava sabíamos que iríamos ouvir mais um interrogatório horrível, mais uma pessoa com o destino mutilado. De resto, o corpo habitua-se a tudo.” Quem chegava queria saber o que se ia passar. Para si mesmo, Andriy recordava dores, alucinações depois das torturas, arrepios. Para eles: “Os choques são como um milhão de estrelas a voar na vossa direção, como no genérico do Star Trek”. Enquanto Andriy pensava que o próximo dia seria o último da provação — “de outra forma não seria possível sobreviver ao primeiro” —, Lilia Aleksandrova dava continuidade ao trabalho deste outro partisan, do qual nada sabia. Passou a desenhar, fotocopiar e colar cartazes, com a sua bengala na mão esquerda e um banal saco de compras pendurado na dobra do cotovelo, onde levava camufladas as suas armas de eleição: humor e ironia.
“Isto da oposição aos fascistas corre na família”
Começa a mostrar folhas A4 onde escreveu todas as vantagens de adquirir um novo passaporte russo: “Razão número 1: será mais fácil os nossos serviços secretos encontrarem um colaborador; razão número 2: não precisas de te preocupar em escolher um destino de férias, porque não poderás entrar em mais nenhum país; razão número 3: podes usá-lo para nivelar uma mesa vacilante; razão número 4: pode usar-se para cortar chouriças”, diz Lilia às gargalhadas. Nota-se-lhe um orgulho imenso em ser resistente. “Isto da oposição aos fascistas corre na família, temos uma fotografia lá em casa do meu avô em frente ao Reichstag, depois da capitulação dos nazis.”
Os membros da resistência comunicam por Telegram, não se conhecem. Um dia recebeu uma mensagem no Facebook de alguém dos “Laços Amarelos”, o nome da resistência de Kherson, a perguntar se ela estava disposta a retomar a missão. “Essa pessoa investigou o meu passado, fez perguntas para saber se era mesmo pró-Ucrânia, só depois recebi luz verde. Tive muito medo, o meu coração batia, as mãos suavam, as pernas a tremer, quase a ceder, nunca sabemos em que casa estamos a pendurar laços, se alguém nos está a ver a pintar as cores da nossa bandeira nos postes de eletricidade”, conta em mais um passeio por Kherson. Pelas avenidas, o governo local mandou espalhar cartazes grandes com a frase: “Estão livres, meus queridos”.
Viramos uma esquina e aparece um “Z”, símbolo do exército russo, com spray amarelo e azul por cima, obra de Lilia. “Sabia que era importante os cidadãos acordarem e verem mais laços, mais mensagens”. Tanto Lilia como Andriy estiveram nas manifestações contra a ocupação russa, nos primeiros dias, na praça principal. Ele pôs uma bandeira da Ucrânia sobre o canhão de um tanque russo, ela e a filha embrulharam-se na bandeira. Aos poucos, os manifestantes começaram a desaparecer, a Internet foi cortada, mesmo com cartões SIM de empresas russas a ligação nunca era certa. Aos poucos, as pessoas foram perdendo acesso a fontes livres de informação.
Samvydav, as publicações clandestinas da oposição
Samvydav - Literalmente “auto-publicação”. Hoje é o nome pelo qual é conhecido o enorme acervo de folhetos, monografias, poemas, ensaios, revistas, reportagens e outros objetos literários publicados clandestinamente, sem censura, e distribuídos ilegalmente na URSS. Os samvydav incluíam estudos filosóficos, literários, políticos, académicos e religiosos, cartas, declarações políticas, traduções de obras estrangeiras proibidas, relatórios sobre oposição política e repressões na URSS, descrições de julgamentos políticos e das condições nos campos de trabalho e prisões do regime, etc. Há samvydav em quase todas as línguas da antiga URSS. Ainda existem. Existem de novo.










É aqui que começa a história de Ivan, um dos editores do jornal clandestino “Voz dos Partisans”, distribuído durante a ocupação pelas caixas de correio, largado em repartições públicas, supermercados, cafés, autocarros. Notícias do outro lado da cortina. Fala com o Expresso por Zoom, de cara tapada. “A ideia foi criar um jornal pequeno, acessível a toda a gente, que as pessoas pudessem ler e deitar fora, sem terem de aceder a nenhum site, sem registo de acesso. Os russos investiram imenso em propaganda para convencer as pessoas de que tinham sido abandonadas por Kiev, e o nosso foco foi provar o contrário”, conta Ivan, que se mudou para um território ocupado, onde tenta criar mais um jornal. Imprimir material subversivo numa cidade sob ocupação não é fácil. Há razões óbvias, outras mais técnicas.
“A ideia surgiu em maio de 2022, mas era muito difícil imprimir em Kherson, não havia tinta nem papel nem lojas abertas, as vias de abastecimento de materiais a partir da Ucrânia foram encerradas pelos russos. Criaram as suas próprias vias, a partir da Crimeia, e foi daí que começaram a chegar a Kherson as cópias do jornal.”
A versão em PDF começou a ser contrabandeada por ativistas antiocupação da Crimeia. Os exemplares da “Voz dos Partisans” iam aparecendo, em maços de 50 cópias, nos bancos de jardim, à porta de prédios, na estação dos correios, nos bancos dos cinemas e teatros, nos carrinhos dos supermercados, nas caixas de correio. Ivan conta que a administração russa destinou uma equipa para procurar membros dos “Laços Amarelos”. A maioria da ação do grupo acontecia nos momentos mais perigosos, durante alertas de queda iminente de artilharia, contra ataques ucranianos, quando os russos estavam “mais ocupados com a sua segurança”.
Não existe redação para conhecer, um quarto escondido num motel desativado, a “Voz dos Partisans” nasce nos quartos dos próprios. Ivan já nem está em Kherson. Quando a cidade foi libertada festejou, concedeu-se um dia. Na manhã de 12 de novembro mudou-se, por vontade própria, para outro território ocupado, onde nascerá nova voz da resistência, mal esteja completo o processo de seleção de colaboradores fiáveis, cujo nome Ivan provavelmente nunca saberá, nem a localização, apenas o lado da História que escolheram.
Créditos
Texto Ana França
Fotografias Ana Baião
Infografias Jaime Figueiredo
Vídeos Ana França, Ana Baião e Reuters
Entrevistas em vídeo Ana França
Edição e pós-produção vídeo Rúben Tiago Pereira
Web Design Tiago Pereira Santos
Apoio Web João Melancia
Coordenação Pedro Cordeiro e Joana Beleza
Direção João Vieira Pereira
Expresso 2023